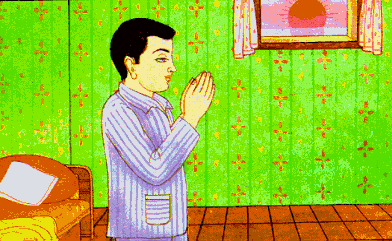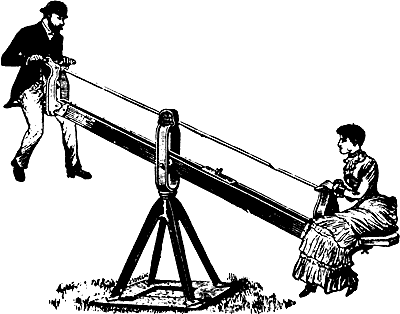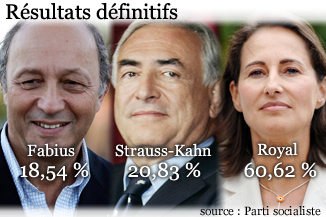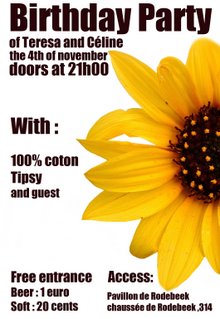David Grossman é um escritor israelita, nascido em 1954, autor de uma série de romances, de que o mais recente é um livro composto de duas novelas sob o título
O seu corpo sabe: dois contos ou (se atendermos à tradução francesa)
Escuto-te com o meu corpo: dois contos, e de várias obras de análise política e de intervenção, entre as quais vale a pena citar
A morte como modo de vida: Israel dez anos depois de Oslo. No início de Agosto, Grossman, acompanhado de Amos Oz e de A.B. Yehoshua, dois outros grandes escritores de Israel, publicaram no jornal
Haaretz um apelo à paz e a um cessar-fogo imediato no Líbano. Dias depois, o filho de Grossman, Uri (na fotografia, ao lado do pai) morreu quando o tanque em que seguia foi abatido por um míssil do
Hezbollah.
(De Amos Oz, há dois livros extraordinários, que aqui ficam com os seus títulos em francês porque não conheço tradução portuguesa:
Seule la mer, um magnífico poema em prosa em torno da solidão e do luto; e
Une histoire d'amour et de ténèbres, que é uma autobiografia centrada sobre os anos da sua infância e da construção do Estado judeu. De A.B. Yehoshua, li, este Verão, um romance excelente com um título francês impossível, que nos faz hesitar em comprá-lo:
Le Responsable des Ressources Humaines, um romance iniciático que acompanha um funcionário de uma empresa na busca do passado duma empregada vítima dum atentado em Jerusalém, no que vem a verificar-se ser uma viagem em torno de uma possível identidade nacional israelita).
O que une Grossman, Oz e Yehoshua, é a crença destes espíritos laicos naquilo que Grossman chama o «milagre político, nacional e humano» da criação – e até da existência – do Estado de Israel. Mas isto não os impede de lançar um olhar crítico, e muitas vezes acerbo, sobre as decisões políticas dos governos de Israel.
No passado dia 4 de Novembro (que é também o dia de anos do meu irmão Francisco – que deixei esquecido neste blogue porque me são difíceis estes primeiros anos em que a Mãe já não está connosco), realizou-se em Israel uma cerimónia em homenagem de Itzhak Rabin. David Grossman pronunciou um extraordinário discurso (disponível aqui:
http://www.lapaixmaintenant.org/article1430). Algumas passagens, comoventes e lúcidas, do que deveria ser uma tomada de consciência, por parte do povo de Israel, de que não é possível viver em guerra permanente e que a legitimidade do seu Estado apenas será incontestável no momento em que for também resolvido o drama do povo palestiniano. Custa a compreender que um povo para quem a palavra gueto traz memórias de horror e destruição se feche agora, de modo quase voluntário, num gueto defendido por um muro que traça uma fronteira de separação e apartheid.
Eis alguns trechos do discurso de Grossman que deveríamos meditar comovidamente.
«Je m’exprime ici ce soir en tant qu’homme pour qui l’amour pour ce pays est difficile et complexe, mais en même temps sans aucune équivoque, et pour qui le pacte qu’il a toujours eu avec Israël est devenu, sur le plan personnel, un pacte de sang. Je suis un homme totalement laïque, et malgré cela, la création de l’Etat d’Israël est à mes yeux une sorte de miracle qui nous est arrivé en tant que peuple, un miracle politique, national et humain. Je ne l’oublie jamais, même un instant. Quand bien même de nombreuses choses me révoltent et me dépriment dans la situation que nous vivons, même quand le miracle devient routine et abandon, corruption et cynisme, même quand la réalité paraît une mauvaise parodie de ce miracle, je m’en souviens toujours. Je pars de ce sentiment-là pour vous parler ce soir.
“Regarde la terre, car nous l’avons gâchée”, écrivait le poète Shaul Tchernikhovski à Tel-Aviv en 1938. Il voulait dire par là que dans le sol d’Israël, nous déposons sans cesse de jeunes gens dans la fleur de l’âge. La mort de jeunes gens est un gâchis épouvantable, et elle hurle. Mais pas moins terrible est le sentiment que depuis de nombreuses années, l’Etat d’Israël gâche non seulement les vies de ses fils, mais aussi le miracle qu’il a connu : cette occasion immense et rare que lui a donnée l’Histoire, l’occasion de créer ici un Etat juste, éclairé, démocratique, qui respecterait les valeurs juives et universelles. Un Etat qui serait un foyer national et un refuge, et pas seulement un refuge, mais un endroit qui donnerait un sens nouveau à l’existence juive. Un Etat où une partie essentielle de l’identité, de l’éthos juif, serait un rapport de pleine égalité et de respect à l’égard de ses citoyens non-juifs.
Et voyez ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé à ce pays jeune, audacieux et plein d’enthousiasme, et comment, comme par un processus de vieillissement accéléré, il est passé directement de l’enfance et de l’adolescence au stade du vieillard acariâtre, mou et aigri.
(…) Nos dirigeants, militaires et politiques, sont creux. Je ne parle même pas des fautes évidentes commises dans la gestion de cette guerre, de l’abandon de l’arrière, et même pas de la corruption, petite et grande. Je parle du fait que les gens qui dirigent aujourd’hui le pays sont incapables de relier les Israéliens à leur identité. Encore moins à la partie saine, vivante et féconde de cette identité, à ces parties de notre identité, de notre mémoire et de nos valeurs qui nous donneraient l’espoir et la force, qui nous vaccineraient contre l’affaiblissement de la solidarité, de l’amour du pays, qui donneraient un sens quelconque à notre lutte usante et désespérante pour la survie.
(…) Je ne dis pas cela par colère ou par esprit de vengeance. J’ai assez attendu pour ne pas réagir sous l’impulsion de l’instant. Vous ne pourrez pas faire fi de mes paroles sous prétexte qu’un homme n’est pas responsable quand il est sous l’emprise du chagrin. Bien sûr, j’ai du chagrin, mais par-dessus tout, ce n’est pas tant la colère qui m’anime que la douleur : j’ai mal à ce pays, et à ce que vous et vos collègues lui faites subir.
(…) Itzhak Rabin a pris le chemin de la paix avec les Palestiniens, non par amour pour eux ou pour leur dirigeant. En ce temps-là aussi, souvenons-nous en, l’opinion générale était que nous n’avions pas de partenaire et que nous ne pouvions discuter de rien avec eux. Rabin a décidé d’agir, car il avait compris, avec une grande intelligence et bien avant beaucoup d’autres, que la société israélienne ne pourrait continuer à subsister sur le long terme dans une situation de conflit insoluble. Il avait compris que vivre dans un climat de violence, d’occupation, de terreur, d’angoisse et de manque d’espoir exige davantage que ce qu’Israël était capable de supporter. Ceci est aussi valable aujourd’hui, avec encore plus d’acuité.
(…) Par le glaive nous vivrons, par le glaive nous périrons, et le glaive nous dévorera pour toujours. Peut-être cela explique-t-il l’indifférence avec laquelle nous acceptons l’échec total du processus de paix, échec qui dure depuis des années et fait de plus en plus de victimes. (…) Et tout cela est en partie la cause de cette dérive rapide d’Israël en direction d’un traitement brutal des pauvres et de ceux qui souffrent. Cette indifférence au sort de ceux qui ont faim, des personnes âgées, des malades et des handicapés, des faibles, cette équanimité de l’Etat d’Israël face au trafic d’êtres humains, ou aux conditions de travail insupportables de ses travailleurs étrangers, qui frisent l’esclavage, au racisme enraciné, institutionnalisé, à l’égard de la minorité arabe.
(…) La calamité qui a frappé ma famille et moi-même avec la mort de notre fils Uri ne me donne aucun droit particulier à tenir un discours public, mais je crois que l’expérience de la mort et de la perte apporte avec elle la lucidité, et au moins la faculté de distinguer l’important de ce qui ne l’est pas, ce qui peut être atteint de ce qui ne le peut pas.
(…) De là où je me trouve en cet instant, je lance un appel. J’appelle tous ceux qui m’écoutent, les jeunes qui sont revenus de la guerre et qui savent que ce seront eux qui seront appelés pour la prochaine guerre, les citoyens, juifs et arabes, de droite et de gauche, religieux et laïques : arrêtez-vous un moment et jetez un coup d’oeil à l’abîme. Pensez à combien nous sommes proches de perdre tout ce que nous avons créé ici. Demandez-vous s’il n’est pas temps de prendre les choses en main, de sortir de cette paralysie, et de réclamer, enfin, la vie qui nous est dûe.
 Até a minha filha - que não gosta muito de poesia - gosta deste poema. Para mim, David Mourão-Ferreira é dos maiores poetas portugueses do século XX e Infinito Pessoal um dos mais belos livros de poesia publicados na nossa língua.
Até a minha filha - que não gosta muito de poesia - gosta deste poema. Para mim, David Mourão-Ferreira é dos maiores poetas portugueses do século XX e Infinito Pessoal um dos mais belos livros de poesia publicados na nossa língua.